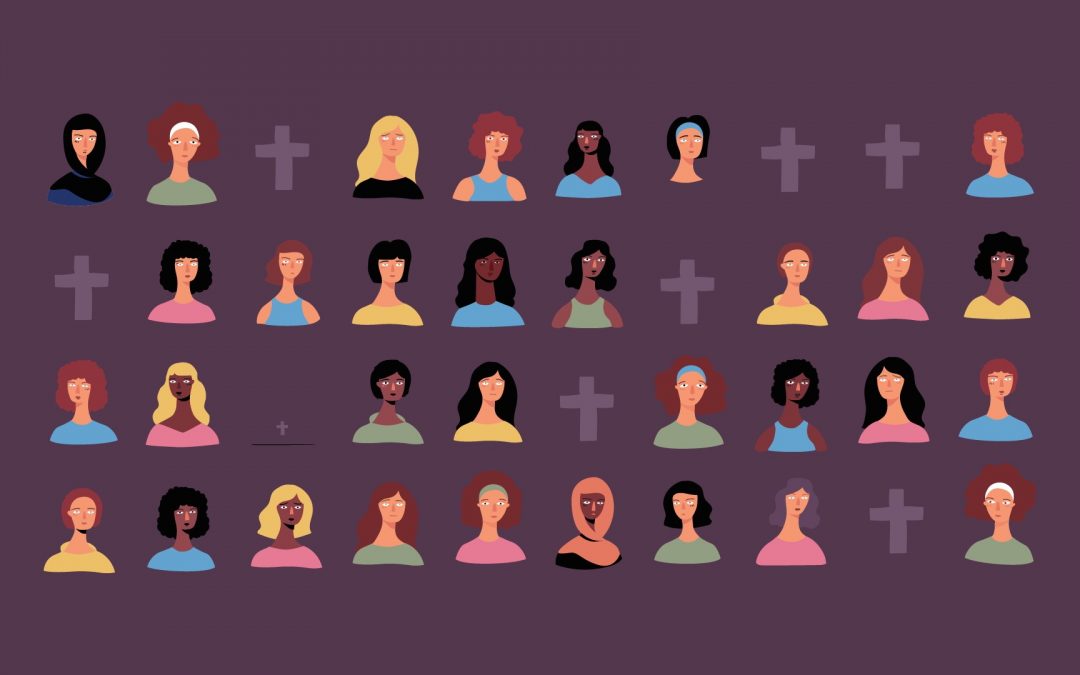Neste 28 de Setembro, Dia Latino-americano e Caribenho de luta pela descriminalização do aborto, o Não Me Kahlo e a Campanha Nem Presa Nem Morta lançam uma animação que narra uma história real de uma jovem que recorre ao aborto clandestino após uma gravidez indesejada. Na animação, a mulher descobre que está grávida e seu parceiro a abandona.
Depois de tomar a decisão de não levar a gravidez adiante, ela busca medicamentos abortivos e sofre complicações pela falta de conhecimento do método. Ao buscar o serviço público de saúde, sofre violência e discriminação.
A história é emblemática uma vez que mais da metade das gravidezes são indesejadas no país [1] e mais de cinco milhões de crianças não têm o nome do pai na certidão de nascimento [2]. Como a protagonista da história, mais de 500 mil mulheres se submetem a abortos clandestinos para interromper uma gestação todos os anos no Brasil. Dessas, cerca de 200 mil vão parar no SUS com complicações [3]. As estatísticas reforçam o que já sabemos: pobres e negras são as mais vulneráveis e que correm mais riscos de complicações [4].
A animação conta uma história, mas não uma história única. É um relato que se repete, que ocorreu mas ainda ocorre. Por isso, esta data é tão relevante ao nos fazer refletir sobre os desafios que ainda precisamos enfrentar para descriminalizar o aborto no Brasil.

“Eu não sabia, mas não existe medicamento abortivo injetável.”
O aborto ainda é tratado como crime previsto no Código Penal e uma das consequências disso é a indisponibilidade de informação sobre como interromper a gravidez usando medicamentos de forma segura. “Ir ao hospital muitas vezes não é uma opção às mulheres por medo de serem denunciadas à polícia. Muitas delas, em desespero, optam por fazer o procedimento sozinhas sem orientação ou apoio”, afirma Bia Galli, advogada e consultora do Ipas.
No entanto, existem exemplos de políticas públicas realizadas em outros países que poderíamos seguir para evitar riscos desnecessários. Antes da legalização, por exemplo, o Uruguai implantou uma política de redução de riscos e danos. Com isso, médicos e equipes de saúde dos serviços poderiam passar informações sobre a dosagem para o aborto com medicamento para mulheres que queriam interromper a gestação, prevenindo riscos de complicações e óbitos por aborto inseguro. Eles também se comprometeram a atendê-las caso passassem por alguma complicação.
Essa foi uma alternativa encontrada levando em consideração a urgência em se lidar com casos que chegam todos os dias aos serviços de saúde, enquanto a legalização não ocorre. “A importância do acesso a essa informação é o que vai definir se essa mulher vai ficar viva ou não, que vai definir se essa mulher vai ter sua saúde sexual e reprodutiva íntegra”, afirma Paula Viana, do Grupo Curumim, ONG que atua há 29 anos na área de saúde reprodutiva feminina. O potencial que o acesso à informação tem de salvar vidas é identificado com base em dados: desde 2008 não há registro de morte materna decorrente de aborto no Uruguai, quatro anos antes da legalização [5]. Experiências semelhantes acontecem em outros países latinos, como na Argentina, por meio de redes de solidariedades de mulheres e linhas telefônicas que dão informação segura às mulheres que desejam abortar. No Brasil, o Grupo Curumim disponibiliza um serviço de informação por telefone sobre direitos reprodutivos e sexuais [6]. Vale enfatizar, no entanto, que esses serviços não são de natureza institucional, como os realizados nos hospitais públicos a partir de protocolos desenvolvidos pelo Ministério da Saúde, o que certamente traria maiores benefícios à população.
“A longo prazo, [a criminalização do aborto] afasta as mulheres do serviço de saúde enquanto espaço de obter informações, de poder fazer suas escolhas reprodutivas de forma segura”, diz Paula Viana. No Brasil, para termos melhor acesso à informação temos que superar muitas restrições que acompanham o estigma da criminalização do aborto. “Aqui temos uma legislação que chamamos de jabuticaba, porque só existe aqui”, diz Paula referindo-se à Portaria nº 911 da Anvisa que determinou a suspensão, em território nacional, de publicidade veiculada em fóruns de discussões, murais de recados e sítios na Internet, dos medicamentos Cytotec, Citotec e Prostokos [7]. A confusão se instaura na medida em que mencionar esses medicamentos – ainda que em contexto informativo – pode ser considerado publicidade e, portanto, sujeitos às restrições impostas pela Anvisa. De forma ainda mais grave, fornecer informações sobre aborto pode ser interpretado como apologia ao crime de aborto. De acordo com a nossa legislação, fazer apologia a crime tem pena de detenção de três a seis meses ou multa.
No entanto, A Organização Mundial da Saúde [8] e o próprio Ministério da Saúde [9] divulgam em seus canais oficiais informações com protocolos baseados em estudos amplos e evidências científicas, inclusive com a indicação adequada e racional do misoprostol para interrupção da gestação ou esvaziamento uterino, “que são importantíssimos para o bom atendimento que devem ser seguidos por todos os profissionais de saúde e devem servir de orientação também às mulheres”, enfatiza Paula. Portanto, é importante enfatizar que a criminalização se dá ao ato de executar o aborto, não em fornecer informações sobre o procedimento. Informação é um direito previsto constitucionalmente. Todas mulheres devem poder saber sobre riscos de diferentes métodos, com base em evidências científicas. A proibição do acesso à informação se torna ainda mais sem fundamento quando consideramos que o aborto é um procedimento permitido por lei em casos específicos e informações sobre tais procedimentos devem ser de acesso à todos. Portanto, interpretações jurídicas restritivas ao nosso direito à informação são inconstitucionais.

“Depois de 15 minutos, eu achava que ia morrer.”
Outra consequência da criminalização do aborto é o medo das mulheres em recorrer ao atendimento médico em uma situação de abortamento. “Mesmo tendo uma infecção, a mulher fica dias sentindo algo estranho e postergando a ida ao hospital. Termina indo já numa situação desesperadora, de perda de muito sangue, com uma infecção generalizada. Isso não é incomum no Brasil, a gente tem infecção por aborto nas primeiras causas de morte por aborto no Brasil e isso se dá também devido ao atendimento tardio”, afirma Paula Viana. As curetagens – tratamento recomendado após um aborto – representam o segundo procedimento obstétrico mais comum nos serviços de ginecologia, vindo atrás apenas do parto [10].
As complicações por aborto inseguro estão entre as cinco principais causas de mortalidade materna direta no país [11] – um número que pode ser ainda maior dependendo do contexto regional, vale lembrar. De acordo com dados do Ministério da Saúde, o número de óbitos é de 74 para 100.000 nascidos vivos no Brasil, ao contrário de países europeus, por exemplo, com o abortamento sendo realizado em condições seguras, que mostram taxas inferiores a 10 óbitos/100.000 nascidos vivos [12].
“A lei brasileira que criminaliza o aborto tem se mostrado retrógrada e incompetente. Além de não diminuir o número de abortos, a criminalização joga a mulher diante de uma gestação não planejada e indesejada na clandestinidade com todos os riscos desta situação de morbi-mortalidade. Isso faz com que mais de 500 mil de mulheres se envolvam numa situação de abortamento inseguro no Brasil todos os anos, com complicações graves como hemorragias, infecções, perfuração uterina, esterilidade e muitas vezes terminando em morte materna, sendo uma morte materna decorrente do aborto inseguro a cada 1 dia e meio”, afirma Cristião Rosas, ginecologista obstetra e diretor do Global Doctors for Choice do Brasil, “ A Lei não salva os fetos, mas tem alta eficácia em matar as mulheres”.
Nos países onde a prática do aborto é autorizada, é possível desenvolver políticas públicas de planejamento familiar e acesso à saúde que de forma mais efetiva combatem a mortalidade materna nos casos de abortamento. Além de reduzir a mortalidade, reduzem-se também o número de abortos [13], indo na contramão do senso-comum que rodeia as discussões sobre o tema que acredita que a criminalização serve como freio para a prática do aborto.
“O maior desafio é ampliar a percepção junto a sociedade brasileira, dos políticos e de agentes públicos de que em nenhum país do mundo houve redução do número de abortos com a sua criminalização”, afirma Ciristião. “O que reduziu o número de abortos foi a descriminalização ou a legalização do aborto, com políticas públicas de acesso ao planejamento familiar de alta qualidade, com ampliação maciça dos métodos anticoncepcionais modernos reversíveis, de longa ação e alta eficácia, tais como, os DIU’s, SIU e implantes, com educação sexual e sobre reprodução nas escolas com treinamento e qualificação dos professores e com maior igualdade entre os gêneros”.
Segundo ele, “o nosso maior desafio será mostrar que se quisermos reduzir abortos, o debate tem que levar em consideração as evidências científicas, as experiências exitosas de outros países que reduziram as taxas de gestações indesejadas e abortos com a descriminalização, com tolerância a diversidade de opiniões, o respeito à autonomia reprodutiva como direito humano, e que este assunto, não se resolve por imposição da Lei criminal”.

“Minha amiga ouviu um deles dizer que esperava que eu perdesse o útero para nunca mais ter filhos.”
Além da barreira ao acesso à informação e do medo de procurar o serviço de saúde, este cenário punitivo provoca um estigma que se perpassa pelos profissionais de saúde. As mulheres que decidem ir ao serviço médico de emergência nem sempre são recebidas como recomenda as normas técnicas do Ministério da Saúde. “Esse estigma provoca barreiras na formação e no entendimento da situação que se apresenta à sua frente enquanto profissional. Esse estigma acaba provocando maus tratos, negligência, postergamento do atendimento àquela mulher”, diz Paula Viana.
São comuns os relatos de mulheres que tiveram de esperar horas para serem atendidas, que não receberam anestesia quando era devida ou mesmo que foram denunciadas à polícia. Um inquérito da Fundação Perseu Abramo com mais de 2 mil mulheres do Brasil, realizado em 2010, revelou que 53% das mulheres que provocaram aborto informaram ter sofrido algum tipo de violência durante a internação hospitalar. Entre essas, 17% disseram que foram ameaçadas pela equipe de saúde com possibilidade de denúncia à polícia [14]. Estudo recente feito pelo Portal Catarinas mostrou que o Brasil registra um processo por autoaborto por dia [15].
“Por o aborto ser realizado de forma insegura, as mulheres ficam expostas à situações de complicações pós-aborto”, diz Emanuelle Goes, Doutora em Saúde Pública com concentração em Epidemiologia (ISC/UFBA). Ela lembra também que a criminalização impacta o próprio aborto legal, na medida em que restringe o direito de realizar o aborto mesmo nesses casos, bem como impacta os casos de aborto espontâneo, “porque o serviço de saúde atende as mulheres com aborto espontâneo sempre colocando-as em julgamento ao acreditar que aquele aborto é provocado”.
“Pensando num horizonte possível de descriminalização do aborto no Brasil, a gente precisa não só pensar no sentido de não ser mais crime, mas também como os profissionais de saúde vão se preparar para a receber as mulheres e como o Estado brasileiro vai cumprir o que nunca se propôs a cumprir, que é o planejamento reprodutivo”, diz Emanuelle.
Segundo ela, existem, portanto, várias bandeiras de luta que devem fazer parte desse complexo de demandas em relação aos direitos reprodutivos. “Para nós, mulheres negras, também será necessário que o enfrentamento ao racismo institucional também faça parte desse escopo. Porque para as mulheres negras não só basta descriminalizar, não só basta legalizar, precisamos ter um ambiente livre de discriminação racial. Por exemplo, porque o estigma do aborto já é um fator que causa um impacto negativo para a procura do serviço de saúde mas o racismo é um fator determinante na falta da procura e no acesso ao serviço. Então, precisamos olhar a luta pelos direitos reprodutivos a partir dessa ótica mais ampliada, pensando na intersecção das mulheres negras, das regiões do nordeste, da zona rural, pensando essas dimensões de experiências singulares que as mulheres têm no país”, afirma.

Você quer que as mulheres continuem arriscando as suas vidas para interromper uma gravidez indesejada?
O Brasil tem a chance de descriminalizar o aborto até a 12ª semana de gestação, prevenir sequelas à saúde e salvar vidas através da Ação de Descumprimento de Preceitos Fundamentais (ADPF) 442. O principal argumento da ação é que a criminalização do aborto fere os princípios fundamentais da dignidade da pessoa humana, da cidadania e o direito à igualdade e não discriminação. Isso porque as mulheres que podem pagar realizam o procedimento em segurança, e as mulheres jovens, adolescentes, pobres e negras que vivem nas zonas rurais e periferias urbanas são as que sofrem as consequências para suas vidas e a sua saúde.
“Estamos em alerta, a gente exige direito aos nossos corpos, direitos de decidir sobre a nossa vida, direito de decidir sobre a nossa reprodução, sobre a nossa sexualidade e o Estado precisa garantir esse direito. Como os direitos sexuais e reprodutivos são direitos humanos, a gente quer que esse direito humano seja de fato efetivado”, finaliza Emanuelle. “O dia de hoje tem a proposta não só de pensar mas também de evidenciar que não vamos desistir nunca do direito de decidir sobre as nossas vidas e como a gente quer conduzir o nosso processo reprodutivo, as nossas experiências reprodutivas. Ter ou não ter filhos, a escolha de como, quando e quantos é um direito que pertence às mulheres”.
Está mais do que provado que a criminalização não diminui o número de abortos, só faz com que as mulheres o façam em condições inseguras. Estados Unidos, Canadá, Uruguai, Portugal, Irlanda, França, Inglaterra, Alemanha, Índia, Moçambique, África do Sul e muitos outros países já legalizaram o aborto – é hora de o Brasil seguir o exemplo e garantir o acesso ao aborto legal e seguro. Hoje o dia é de luta pela descriminalização do aborto, para que um dia esta data represente uma vitória. Porque, como enfatiza Paula Viana: “Uma palavra hoje que resumiria a questão do aborto na nossa sociedade seria a palavra: democracia. Não pode haver justiça e não pode haver democracia se o aborto não for legalizado”.
Referências
[1] Clarissa Thomé (2016): 55% das mães não queriam ter filhos, aponta pesquisa. Em: O Estado de S. Paulo, 02/12/2016. On-line Disponível em https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,55-das-maes-nao-queriam-ter-filhos-aponta-pesquisa,10000092047, Última verificação em 27/09/2018.
2] Fernanda Bassette: Brasil tem 5,5 milhões de crianças sem pai no registro. Em: Exame 2016. On-line Disponível em https://exame.abril.com.br/brasil/brasil-tem-5-5-milhoes-de-criancas-sem-pai-no-registro/, Última verificação em 27/09/2018.
[3] DataSUS, 2017
[4] Cláudia Colluci; Júlia Barbon: Desigualdade pela renda e cor da pele é exposta em abortos de riscos no país. Em: Folha de S.Paulo 2018. On-line Disponível em https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/07/desigualdade-pela-renda-e-cor-da-pele-e-exposta-em-abortos-de-riscos-no-pais.shtml?loggedpaywall.
[5] http://www6.ensp.fiocruz.br/radis/conteudo/descriminalizacao-planejamento-familiar-e-reducao-de-danos
[6] http://www.grupocurumim.org.br/
[7] Marilena Cordeiro Dias Villela Corrêa; Miryam Mastrella. Aborto e misoprostol: usos médicos, práticas de saúde e controvérsia científica. http://www.scielo.br/pdf/csc/v17n7/16.pdf
[8] Abortamento Seguro. Orientacao Tecnica E De Polt̕icas Para Sistemas De Saude (2015): World Health Organization.
[9] Atenção humanizada ao abortamento. Norma técnica (2011). 2a edição. Brasília – DF: Editora MS (Série Direitos sexuais e direitos reprodutivos, caderno no 4).
[10] Juliana Granjeia. https://oglobo.globo.com/sociedade/governo-afirma-onu-que-aborto-clandestino-no-pais-problema-de-saude-publica-15550664
[11] Atenção humanizada ao abortamento. Norma técnica (2011). 2a edição. Brasília – DF: Editora MS (Série Direitos sexuais e direitos reprodutivos, caderno no 4).
[12] Idem
[13] https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,paises-que-liberaram-aborto-tem-taxas-mais-baixas-de-casos-que-aqueles-que-o-proibem,10000050484
[14] Madeiro, Alberto Pereira; Rufino, Andréa Cronemberger (2017): Maus-tratos e discriminação na assistência ao aborto provocado: a percepção das mulheres em Teresina, Piauí, Brasil. Em: Ciencia & saude coletiva 22 (8), pág. 2771–2780. DOI: 10.1590/1413-81232017228.04252016 .
[15] Paula Guimarães; Natália Veras: Brasil registra um processo por autoaborto todo dia. Em: Portal Catarinas 2018, Última verificação em 27/09/2018.